



































Como é possível olhar para a cidade sem que a vista sangre? As ruas sujas de confusão e raiva, a sarjeta lotada de dejetos, os muros inscritos de publicidade alheia. Nosso processo civilizatório parece ter chegado a um ponto culminante de desentendimento e desequilíbrio. Talvez o que nos reste seja o céu. Não o divino, mas a abóbada que nos vigia de azul anil.

A angústia que habita a necessidade do caminhar em desvio, precede e procede a efemeridade de algo prometido que não se sabe o que é, que não se sabe como, que não se sabe onde. Andamos pelas ruas como zumbis em busca de cérebros mortos e corpos vivos, dilacerados pela espera e pela falta de respeito à liberdade. A cada cutucão, empurrão, milhares de palavrões e olhos de raiva e vingança. A cada passada, uma sátira, uma cantada, uma falta de educação e respeito ao próximo, principalmente, à próxima e àqueles que se configuram como “diferentes” em meio à malha social. Talvez o melhor mesmo é abandonar a vigília e olhar somente para o alto, não esperando uma carruagem de fogo, mas aliviando o trabalho que é procurar saídas pelo labirinto.

Ao sair da selva em direção à cidade, Buda Sakyamuni subiu à barca do sábio jangadeiro. A ida e a volta tiveram um elemento comum: o rio. Ao atravessá-lo, chegou à cidade e nela se envolveu emocionalmente – se apaixonou, foi ferido, teve ira e passou pelo medo. A relação direta com a cobiça e o aprisionamento social mostraram ao príncipe os deveres de um espírito para se libertar – estar longe das ilusões ou ao menos, imune aos seus elogios seria um passo inicial. Com muita dificuldade, Sidarta Gautama se livrou dos laços conquistados em sua estada na cidadela – teve status, poder e prazer, todavia também se horrorizou e envergonhou-se. Por isso, quando decidiu ser firme em seu interior e sair dali de uma vez por todas não era ainda sua iluminação, mas sua honra e sua dor – certos combustíveis. Só se deu conta da vida quando parou sobre a jangada e ali, no caminhar leve das águas, percebeu que era ele o homem do leme e a multidão, o barco. Mesmo sendo capaz de manejar determinados caminhos, forçar a jangada em uma corrente era inútil e perigoso e, por outro lado, deixar de estar presente poderia causar derivas e naufrágios.
As águas no imaginário oriental representam o inconsciente, a profundidade da natureza e a falta de consciência do homem. Assim, ao ficar atento, sentir o rio para saber quando e como dar guinadas podem ser as maneiras de conseguir se guiar sobre as águas, em cima de uma fina camada de madeira, ou seja, de sabedoria. Ao passar novamente pelo rio, depois de suas frustrações e êxtases, Sidarta viu a possibilidade de reconhecer em si um ser de atuação sobre a própria vida e para a vida das outras pessoas. Percebeu em princípio que as ações do homem se tornam propulsões de outras ações na realidade e que esse efeito seria seu desafio: como modificar as próprias intenções de tal forma que as ações dos outros também se transformassem em prol de uma harmonia para si e para o coletivo? E, como fazer isso sem obrigar aos corpos e mentes com ameaças ou chantagens, mas com sensibilização do divino para que eles mesmos optem pela sabedoria – sem obrigação ou pura e simples necessidade, mas como um caminho para aliviar a dor das dificuldades da inteligência e da sensibilidade, aprisionadas em uma ferramenta limitada e que, sem o espírito se torna estéril?



Se Buda meditou estando no rio, este trabalho coloca as águas sobre nossas cabeças, como se vivêssemos em uma espécie de aquário em águas poluídas. E para nos libertar desta condição, talvez seja preciso a mudança do foco do próprio olhar. Não que a solução esteja lá fora, no alto das águas do rio que passa no céu. Entretanto, é bem provável que esteja, sim, no ribeirão que passa por dentro e é de sangue e tem a cor vermelha. O céu, como o rio para o Buda, é o espelho para o homem. Assim, não é nem a solução, nem o desejo. E é assim, que “O Rio que me sangra o céu” convida os cidadãos (ou não) da cidade do Rio de Janeiro a apreciarem, principalmente, no outono e no inverno as boas perspectivas para a primavera e o verão que, naturalmente, são quentes de cima pra baixo e também, na horizontalidade.



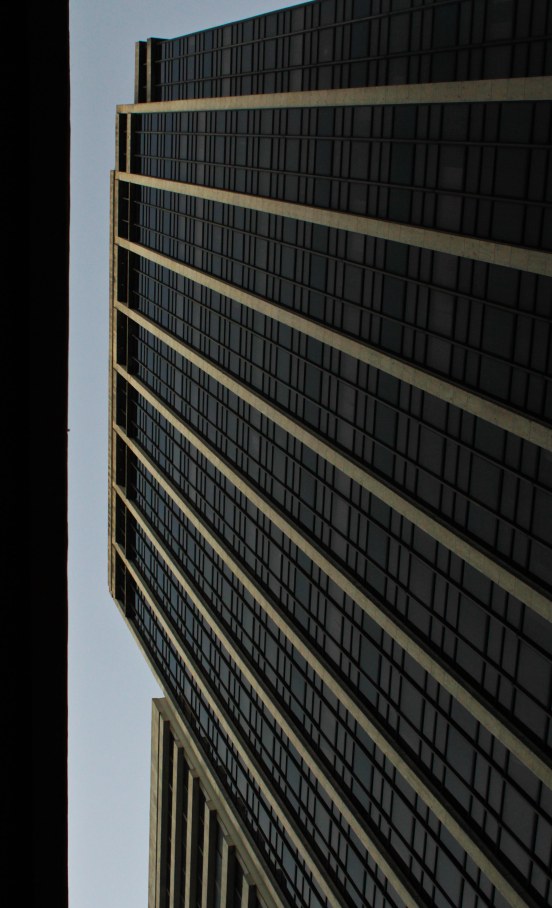

“Criai ânimo, senhor, nossos festejos terminaram.
Como vos preveni, eram espíritos todos esses atores; dissiparam-se no ar, sim, no ar impalpável.
E tal como o grosseiro substrato desta vista,
as torres que se elevam para as nuvens,
os palácios altivos,
as igrejas majestosas,
o próprio globo imenso, com tudo o que contém,
hão de sumir-se, como se deu com essa visão tênue, sem deixarem vestígio.
Somos feitos da matéria dos sonhos;
nossa vida pequenina é cercada pelo sono.”
[“A Tempestade” – Shakespeare]
“Habitar um espaço se insere dentro de um tempo, entretanto, quantos tempos existem sobre um mesmo espaço?”
A lógica cartesiana vem se tornando obsoleta para a pesquisa e estudo dos ambientes e da temporalidade dos conteúdos, passantes e viventes desses lugares. O espírito e as dimensões que se acumulam, contam e recontam, olham e reciclam as narrativas de um endereço, transcendem o tempo presente e co-habitam em justaposição o mesmo espaço, em que o olho do presente só vê a racionalização e o resultado da manifestação humana e natural nos elementos que ali ocupam no aqui-agora. O corpo vê a reação, os rastros e resquícios que levaram àquele momento. E a alma cuida de imaginar e reconstruir os possíveis, os agentes que proporcionaram o que “está”, mas é a criatividade, a construção e a ação que, efetivamente, traz o que pode ter permanecido, o que irá “permanecer”!

Iniciamos um trabalho de pesquisa em audiovisual sobre a depreciação pública e privada de patrimônios tombados e considerados importantes para a valorização da cultura e da identidade local. No caso, Juiz de Fora. Entretanto, essa é uma realidade de nosso tempo que extermina a memória das coisas, das cidades e das possibilidades. Esse papo todo de justaposição é invalidado quase totalmente, toda vez em que um local tem uma edificação substituída por outra, um castelinho por uma casa, uma casa por um estacionamento, um estacionamento por um prédio. Restam apenas as memórias fluídas das vias orgânicas de quem pode se lembrar e quiça, fotos, vídeos e outras marcações que podem ou existir, permanecer. Assim, o trabalho fotográfico aqui postado e de vídeo que ainda virá, será uma forma de conferir certa eternidade às camadas que habitam o palacete dos Fallet (Espírito Santo com Independência) que há tanto sofre com o pouco caso e a disfunção burocrática.
